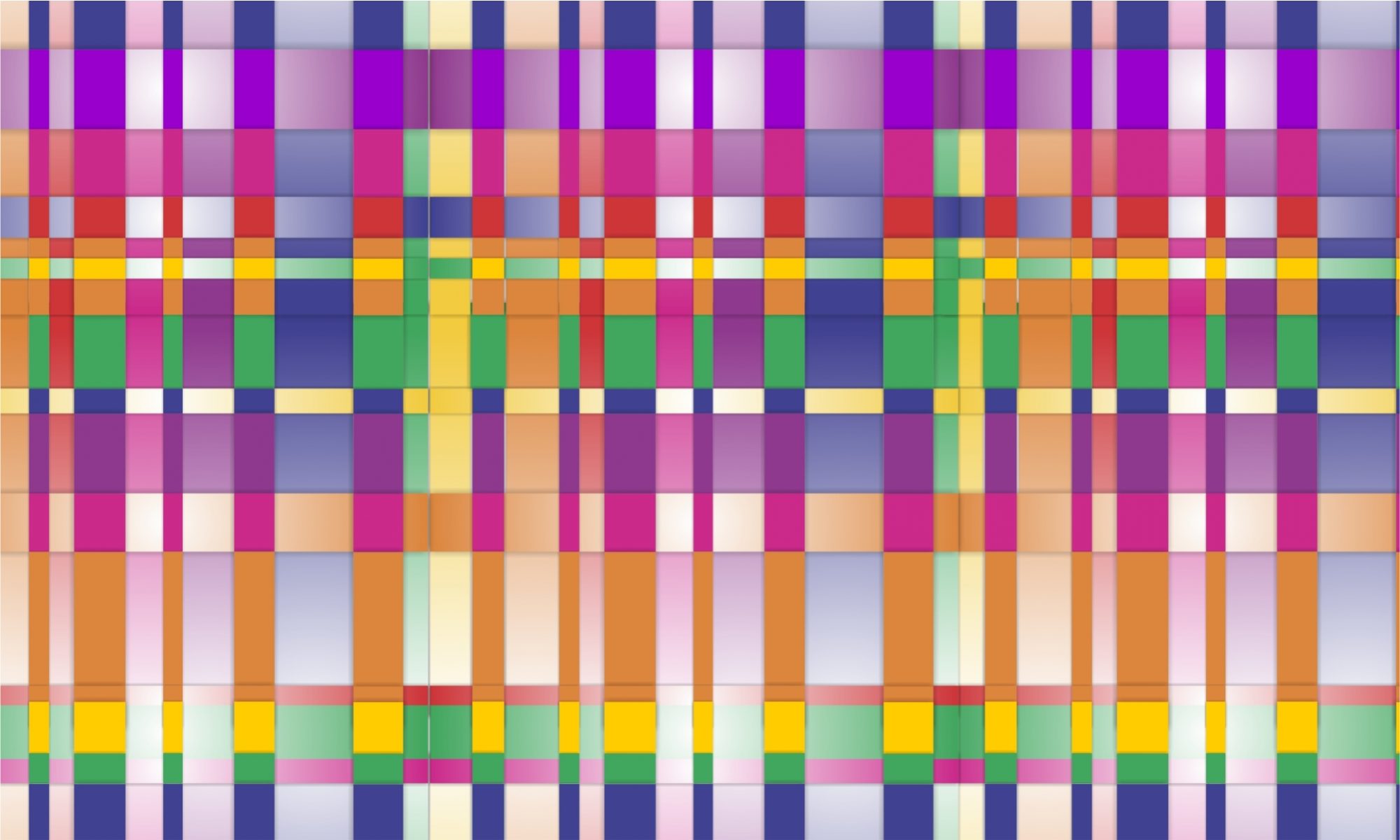Conta uma antiga lenda chinesa[1] que um sábio e seu discípulo chegaram, um dia, à casa de uma família muito pobre, a qual tinha uma vaca como única fonte de sustento. O sábio, então, pediu ao discípulo que jogasse a vaca de um precipício. Ele, mesmo indignado, cumpriu a ordem, retornando à casa da família, anos mais tarde, marcado pelo remorso. Foi nesse momento que descobriu uma família rica, e qual não foi a sua surpresa ao ver que era a mesma família de anos antes, cujo progresso começou exatamente quando perderam a vaca e tiveram que descobrir em si talentos que não sabiam possuir.
As tessituras que apresento[2] nesta pesquisa são fruto de um percurso de vacas jogadas no precipício: primeiro, cursando as graduações em Comunicação Social e Letras, em Juiz de Fora, ter que interromper a segunda, por causa do trabalho, à qual retornei algum tempo depois; em seguida, deixar a referida cidade, um excelente emprego e uma vida estruturada, em busca do sonho de fazer o mestrado na Universidade Federal de Lavras (UFLA); além disso, mudar a minha área de atuação, deixando o cargo como professora de Língua Portuguesa da educação básica, em uma escola da rede estadual de Minas Gerais, pelo de servidora técnico-administrativa na UFLA, onde trabalho atualmente; e, finalmente, trocar a área de pesquisa Educação mediada por tecnologias pela de Gênero e diversidades na educação. Ambas as áreas sempre despertaram o meu interesse, a primeira por eu ter cursado Comunicação Social e acreditar nas potencialidades pedagógicas das tecnologias, e a segunda, porque eu defendo a importância de se discutir essa temática em todos os âmbitos da sociedade, sobretudo nas escolas e universidades. Todas essas guinadas foram fundamentais para que eu escolhesse abraçar o desafio de fazer esta pesquisa sustentada sobre três pilares, que são as áreas de linguagens, tecnologias e sexualidades.
A mudança de área de interesse no mestrado contribuiu não apenas para a minha trajetória acadêmica, mas para que eu assumisse uma nova postura de vida, já que os estudos pós-estruturalistas propiciaram-me uma nova forma de ver, interpretar e me posicionar diante de fatos cotidianos, desde os mais corriqueiros até um engajamento diante de questões relacionadas ao feminismo e às posições políticas dos grupos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Queer (LGBTQ+).
A minha escolha em pesquisar de modo pós-crítico advém, ainda, da vontade de olhar o fazer científico de um modo diferente do padrão acadêmico tradicional, de tal modo que eu possa expressar-me com mais liberdade. Além disso, o contato com pesquisadoras e pesquisadores que seguem a linha pós-estruturalista fez-me perceber com outro olhar como se organiza o mundo da pesquisa e as relações de poder, bem como os pressupostos éticos que o permeiam. Procuro, então, costurar a minha argumentação, utilizando como linha de alinhavo as concepções pós-estruturalistas. Mas, justamente por se pretender dessa forma, sei que este texto jamais estará completo e finalizado. Quero que ele seja, portanto, um ponto de luz em meio a tantas outras referências e que contribua para novos tecidos do conhecimento.
Dessa forma, esta pesquisa é uma tentativa de apontar caminhos para potenciais usos dos artefatos multimídias na melhoria da qualidade dos processos educativos, mais especificamente, nas discussões sobre relações de gêneros e sexualidades. Para tanto, busquei investigar a seguinte situação-problema: como utilizar artefatos multimídias para ampliar as oportunidades de formação de educadoras e educadores[3] sobre as temáticas relações de gêneros e sexualidades? E, a partir disso, que saberes/representações sobre essas temáticas podem ser observados em produções realizadas por participantes de um curso de extensão sobre esse tema?
Faz-se importante, neste ponto, uma pausa para discorrer sobre o motivo da minha escolha pela pluralização da palavra gênero, mesmo sendo mais comum, nas pesquisas nessa área, a utilização da expressão relações de gênero, por entender-se que o sentido da pluralidade está na palavra relações. Contudo, decidi utilizar relações de gêneros por entender que, além de as relações serem plurais, diversas também são as identidades de gênero. Sustento, então, a minha escolha em concepções como a de Joan Wallach Scott (1995, p. 75), que entende o gênero como “categoria social imposta sobre um corpo sexuado”. Logo, esse conceito está relacionado a identidades, as quais podem ser múltiplas, do que decorre que vários podem ser os gêneros.
Embaso a minha decisão, ainda, em Judith Butler (2003), que defende a noção de gênero relacionada a de atitude:
Os gêneros distintos são parte do que “humaniza” os indivíduos na cultura contemporânea; de fato, habitualmente punimos os que não desempenham corretamente o seu gênero. Os vários atos de gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos, não haveria gênero algum, pois não há nenhuma “essência” que o gênero expresse ou exteriorize, nem tampouco um ideal objetivo ao qual aspire e porque o gênero não é um dado da realidade. Assim, o gênero é uma construção que oculta normalmente sua gênese; o acordo coletivo tácito de exercer, produzir e sustentar gêneros distintos e polarizados como ficções culturais é obscurecido pela credibilidade dessas produções – e pelas punições que penalizam a recusa a acreditar neles; a construção “obriga” nossa crença em sua necessidade e naturalidade. (p. 199).
Concordo, portanto, com essa ótica, na medida em que a filósofa contemporânea questiona o que se entende por gênero como algo cristalizado e estático, binário e polarizado, a partir da construção social de que o ser humano só pode ser visto ou como homem ou como mulher, quando, na verdade, seu gênero expressará particularidades que são próprias de cada pessoa. Ressalto, ainda, que Judith Butler (2003) sustenta a sua argumentação baseada nas concepções de outras/os teóricas/os, como a filósofa e crítica literária Julia Kristeva (apud BUTLER, 2003), a qual relaciona a concepção de gênero à expressão do corpo. E, sendo este um trabalho que se propõe uma tessitura, considero importante destacar que é justamente essa autora quem cunha o conceito de intertextualidade (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2008), o qual é a linha-guia das análises desta pesquisa e sobre o qual discorrerei no capítulo primeiro.
E já que trato de conceitos da linguagem, sopeso importante estabelecer mais um diálogo entre áreas do conhecimento, nesse caso, entre os estudos sobre gêneros e sexualidades e a linguística, já que gênero é um termo originalmente utilizado para classificar gramaticalmente as palavras (STELLMANN, 2007) e utilizado também para designar gêneros textuais, cuja premissa básica é a multiplicidade, segundo Luiz Antônio Marcuschi (2008).
Ainda no que se refere a esse assunto, é necessário pontuar que os estudos filosóficos já estão sendo incorporados às pesquisas na área da educação, em que alguns/mas pesquisadores/as também já utilizam gênero no plural, como é o caso, por exemplo, de Guacira Lopes Louro (2012) e Richard Miskolci (2013).
Para Guacira Lopes Louro (2012), que é referência nas pesquisas sobre sexualidades no campo da educação, “a concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro (portanto uma ideia singular de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se “enquadram” em uma dessas formas” (p. 34, grifo da autora). Mais que vistas como polos opostos, as pessoas precisam ser entendidas como parte de um todo, o qual é dinâmico e diverso.
Outro autor que também discorre sobre a dicotomização feminino versus masculino no contexto escolar, Richard Miskolci (2013) defende que “a escola é um dos locais privilegiados para que meninos aprendam a ser masculinos e meninas aprendam a ser femininas” (p. 15) e a crença no fato de que esse é um processo natural “permite que se constituam os gêneros de forma mais poderosa, pois quando se expõe que a sociedade e a escola fabricam homens e mulheres, fica mais difícil justificar as desigualdades entre eles” (MISKOLCI, 2013, p. 15). Compreender esses processos é justamente o que permite questionar e mudar os paradigmas vigentes, começando pela escola. Por isso, defendo a necessidade de uma formação docente que tenha condições de promover debates e possibilitar o desenvolvimento do senso crítico de alunas e alunos em relação à forma como as sexualidades são tratadas na sociedade.
Afirmo, a partir dessa análise, que este trabalho pode ser feito por meio do diálogo entre diferentes artefatos multimídia. Tal mote foi inspirado pela metodologia utilizada em duas disciplinas que cursei no mestrado: Escola, currículo e diversidade cultural e Artes e Educação, ambas ministradas pela professora Cláudia Maria Ribeiro, orientadora desta pesquisa. A dinâmica das aulas funcionava da seguinte forma: tendo como fio condutor alguns textos-base, as alunas e os alunos levavam para sala de aula outros textos, vídeos, imagens etc. que contribuíssem para a ampliação do referencial. E, com base nesses diversos materiais, a professora conduzia as discussões da turma.
Foi por vivenciar tal experiência e entendê-la tão profícua que senti a vontade de aplicar tal metodologia em um curso, a fim de poder analisar as formas e possibilidades de diálogos existentes para além de apenas textos, incluindo nessas relações outros artefatos, aqui denominados multimídia[4]. Portanto, mais do que a análise intertextual, originada do diálogo entre textos e denominada intertextualidade, será descrita, neste trabalho, a relação entre multimídias, a qual passa a ser chamada de intermultimidialidade. A fim de auxiliar-me nessas análises linguísticas, a professora Helena Maria Ferreira foi a minha coorientadora.
E, para sustentar os pilares temáticos, foram utilizados os seguintes referenciais teóricos: Michel Foucault[5] (2014) que historiciza a sexualidade e as relações de poder, saber e verdades existentes nas relações humanas; Guacira Lopes Louro (2016, 2012, 2001, 2000), no que concerne às formas como as relações de gêneros e sexualidades são vistas socialmente e incluídas no currículo escolar; Cláudia Maria Ribeiro (2014, 2010, 2009, 2008, 1996) e as pesquisas desta com Carolina Faria Alvarenga (RIBEIRO; ALVARENGA, 2016, 2014), que tratam dos diálogos entre artes, educação, crianças e sexualidades. Ainda sobre relações de gêneros e sexualidades, Kelly da Silva (2015) discorre acerca da presença dos estudos sobre sexualidades na formação docente.
Por sua vez, Ingedore Koch, Anna Christina Bentes e Mônica Cavalcante (2008) tratam das relações intertextuais e interdiscursivas que podem ser estabelecidas entre textos e imagens, sustentando a minha escolha por cunhar o termo intermultimidialidade. Já, para realizar a leitura de imagens, bem como para se analisar as habilidades de uso de recursos hipertextuais, recorri ao conceito de multiletramentos, conforme Roxane Rojo (2012). E David Barton e Carmen Lee (2015), que discorrem sobre o conceito de postura, contribuem para a discussão sobre os posicionamentos que as pessoas assumem em situações de interação virtual.
No que se refere às TDIC, José Manuel Moran (2011) discorre sobre a importância das tecnologias para a educação, enquanto Alexandro Sunaga e Camila Sanches de Carvalho (2015) sobre o ensino híbrido; e Dilton Ribeiro do Couto Junior (2012) contribui para a compreensão do Facebook enquanto ferramenta de ensino-aprendizagem. E, para discorrer sobre a metodologia utilizada, já que se escolheram os referenciais da pesquisa pós-estruturalista, recorreu-se a Dagmar Estermann Meyer e Marlucy Alves Paraíso (2014). Em diálogo com a perspectiva pós-crítica, uma tempestade de luz foi realizada neste trabalho, a partir dos pressupostos teóricos de Roque Moraes e Maria do Carmo Galiazzi (2016), que tratam da análise textual discursiva, a qual orienta o exame do material empírico advindo do curso de extensão proposto.
Esse embasamento teórico contribuiu para que se atingisse o objetivo principal desta pesquisa, qual seja: problematizar o uso de diferentes artefatos multimídias, sob a ótica dos multiletramentos e das relações de intermultimidialidade, que podem ser estabelecidas entre textos, imagens, vídeos, entre outros, criando possibilidades de reflexão sobre as temáticas de relações de gêneros e sexualidades.
Vários podem ser os temas-foco da análise intermultimídia, mas escolhi relações de gêneros e sexualidades por acreditar que a reflexão sobre essa temática é necessária, mas ainda é pouco discutida na escola. Isso acontece não somente por ser esse um assunto considerado polêmico, mas, também, pela falta de ferramentas que possibilitem o trabalho com o tema. É por isso que, ao objetivo basilar, acrescenta-se um objetivo complementar, qual seja: promover a formação docente, por meio de um curso de extensão, para 70 licenciandas/os da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com as temáticas das relações de gêneros e sexualidades.
Organizado sob a forma de curso de extensão, depois de ser aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFLA, o curso conferiu certificado aos/às participantes e teve como público as alunas e os alunos em formação nos cursos de licenciaturas. Intitulado Corpo, saúde, sexualidades, o curso teve duração de 40 horas e formato híbrido[6], já que se dividiu em dois encontros presenciais, que totalizaram 10 horas, mas aconteceu, primordialmente, a distância, durante 30 horas, tendo como ferramenta didática a rede social Facebook.
O desenvolvimento do curso começou como parte das atividades realizadas na disciplina do mestrado: Materiais didáticos e recursos midiáticos digitais, sob orientação do professor Ronei Ximenes Martins. Assim, surgiu a ideia de organizar e oferecer um curso a distância[7], como forma de ampliar o meu conhecimento sobre a dinâmica de organização pedagógica de um curso híbrido. Foi elaborado, então, o design instrucional de um curso com esse formato e viu-se que havia muito potencial para que ele fosse colocado em prática e que disso poderiam advir análises dos materiais didáticos produzidos, bem como das produções que dele seriam geradas. Por isso, abracei o desafio da materialização desse curso, entendida como proposta metodológica contundente para a formação de futuros/as professores/as, com o fito de problematizá-la, compondo a minha pesquisa.
[1] COLOMBINI, Luís. A parábola da vaca. Disponível em: https://clubedavida.wordpress.com/textos-para-reflexao/a-parabola-da-vaca/. Acesso em: 25 fev. 2017.
[2] Como todo texto, este não se fez apenas por mim (aliás, esse é um dos temas desta pesquisa), mas advém de muitos fios, os quais foram trançados pelas autoras e pelos autores que li, pelas contribuições das minhas orientadoras e pelo aprendizado com professoras e professores, ao longo do Mestrado que cursei. A todas e todos sou muito grata. Escolhi, então, utilizar verbos ora conjugados de forma impessoal, na terceira pessoa do singular, por entender que, dessa forma, essas vozes que me sustentam se fazem mais presentes; ora na primeira pessoa do singular, para as construções frasais em que julguei necessário ressaltar uma experiência ou ponto de vista pessoal.
[3] Entendendo a língua como instrumento de difusão de conhecimento e, portanto, ferramenta de exercício de poder, vejo o uso comum – e exigido pela gramática normativa – de generalizações no gênero masculino como algo contraditório ao que pretendo com esta pesquisa. Portanto, como busco problematizar questões ligadas às relações de gêneros e sexualidades, atentei-me em utilizar ambos os gêneros quando há referências a pessoas.
[4] Partindo da premissa de que todo texto estabelece relações com outras produções escritas, ao que a linguística chama intertextualidade, proponho ampliar tais diálogos à inter-relação entre textos, imagens, vídeos, músicas, sites, entre outros. Para nomear tal diálogo, escolhi utilizar a terminologia artefatos multimídias, o que será explicado no próximo capítulo.
[5] Destaco a escolha pela identificação das autoras e dos autores por meio de nome e sobrenome. Sei que as normatizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomendam o uso apenas do sobrenome. Contudo, entendo que isso descaracteriza o protagonismo da mulher enquanto pesquisadora, já que a associação automática feita a um sobrenome é ao gênero masculino. E, se pretendo, como já dito, problematizar questões ligadas às relações de gêneros e sexualidades, a citação às pesquisadoras e aos pesquisadores referidas/os precisa estar em consonância com esse posicionamento.
[6] A educação a distância (EAD) que mescla ensino presencial e virtual é denominada mista, blended ou híbrida. Por entender que este último termo traduz satisfatoriamente o termo em inglês e contempla os objetivos desse tipo de ensino, escolhi utilizá-lo ao longo deste trabalho.
[7] No planejamento inicial do curso contei com a participação do colega da disciplina Vinícius de Carvalho.